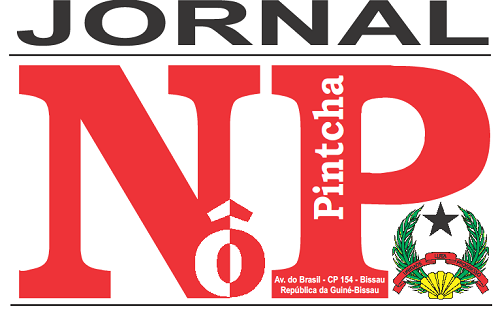Passados cinquenta anos da fundação do Jornal Nô Pintcha, e tendo-me afastado dele há 33 anos, como poderei retratar uma imagem fiel desse passado? Eu teria poucos elementos e palavras perfeitas para descrever aqueles primeiros momentos. Mas é-me insustentável a tentação irresistível de aventurar um pouco para reavivar, neste texto, a minha memória sobre a conjuntura que, então, nos rodeava. Fica como contribuição para a história. Com a consciência de que algumas precisões históricas me escaparão, embora involuntariamente.
Antes do 25 de Abril de 1974, muitos de nós jovens estudantes do liceu, nas zonas controladas pelo regime colonial, envolvidos ou não na corporação estudantil da Mocidade Portuguesa, estávamos proibidos de questionar os motivos da guerra de libertação. Alguns que tinham acesso aos murmúrios da clandestinidade ou que escutavam, às escondidas, as emissões da Rádio Libertação, à noite, sabiam um pouco mais. As mensagens veiculadas pelo regime colonial sobre a guerra eram de soldados vindos de Portugal para apoiar os seus irmãos guineenses a defender o território do Império Português – Uno e Indivisível – contra um bando de ‘’terroristas criminosos’’ que queriam desestabilizar o governo da província.
Rapidamente aderimos ao novo projeto político, social e económico. O sentimento de povo independente era contagiante e ninguém queria faltar aos comícios políticos. Estávamos na nova era revolucionária da reconstrução nacional.
Esses órgãos eram o prolongamento natural daquelas ferramentas criadas anteriormente em Conacri, durante a luta armada e dinamizadas por jovens fardados. Uma parte dos colegas eram provenientes das zonas libertadas e de Conacri, com formação política uniformizada, Outros de nós que aderimos a profissão de jornalistas e técnicos na rádio e no jornal, eramos ainda jovens provenientes de vários quadrantes de sensibilidades ideológicas, em fase de formatação político-ideológica acelerada, mas estimulados pelos novos ventos de transformação, embandeirados em slogans da reconstrução nacional e da criação de um desejado Homem Novo. O Homem Novo capaz de ‘’suicidar-se enquanto classe burguesa e pequeno burguesa (de que éramos classificados), para renascer como revolucionário identificado com os interesses do povo’’, parafraseando o desafio do sonho de Amílcar Cabral.
Fase de principiantes na oficina prática do Jornalismo guineenses
Aproximadamente dois a três meses antes da oficialização do jornal, o 1º. Comandante das FARP, Manecas dos Santos, então Sub-Comissário de Estado da Informação e Turismo, e Lopes Pereira, primeiro responsável do jornal, foram os dirigentes que começaram a dinamizar os nossos treinos de demonstração de nível da escrita e agilidades na transcrição de conteúdos orais para o papel, nomeadamente, a elaboração de textos temáticos presenciais e T.P.C´s diários de escuta dos noticiários e apresentação dos resumos captados nos dias seguintes. Nessa primeira fase, antes da edição Nº.‘’0’’, eramos os seguintes jovens: Fernando Perdigão (Perdigas) – o primeiro a chegar – Carolina Fonseca (Carol) e Pedro Quade (vulgo Péquas).
E, dessa forma, ficam para o arquivo histórico os meios de comunicação anteriormente produzidos durante a luta armada de libertação, nomeadamente: o boletim ‘’PAIGC Libertée’’ (e a sua versão em português ‘’O Libertação’’) que eram editados, respetivamente, em Conacri e em Dakar e a Rádio Libertação. O jornal do regime colonial, Voz da Guiné, editado em Bissau, também teve o seu fim imediato.
Em Setembro de 1976, Lopes Pereira foi transferido para o Secretariado do Partido, onde apoiou o ministro sem pasta, José Araújo na produção do boletim ‘’O Militante’’, órgão do Partido que substituiu o boletim ‘’PAIGC Libertée, primeiro órgão do partido. Lopes Pereira foi substituído na direção do ‘’NP’’, por Tony Tcheca, proveniente da RDN e que coadjuvava Lucete Cabral na ANG.
Posteriormente, sob a direção de Tony Tcheca, juntaram-se-nos depois: a Margarida (Magui), o Cândido Camará (maquetista), o João Fernandes (Djony), Raimundo Pereira, Simão Abina, Aniceto Alves, Tony Tavares, Pedro Albino, entre outros jornalistas, novos fotógrafos: Brandão da Mata, José Tchuda e Pedro Fernandes.
Naquela fase de fundação, a Iva Cabral (filha de Amílcar) visitava assiduamente a equipa e a Lucete Cabral (esposa do presidente Luís Cabral) se ocupava da Agência Noticiosa, enquanto Agnelo Regala (coadjuvado por Álvaro Baticã, na chefia da Redação, e Zeca Martins, na secção técnica) dirigia a Radiodifusão Nacional (a herdeira da Rádio Libertação anteriormente emitida de Conacri). A locução estava a cargo de Tony Tcheca, António Barbosa (Cancam), Conceição, Paquete e João Manuel Gomes.
A nossa consciência de níveis limitados de escolaridade (entre 5º. e 7º. Anos) nunca foi fator constrangedor na nossa profissão na qual nos mergulhamos inteiros de corpo e alma. O constante e progressivo aperfeiçoamento era a chave da nossa emulação patriótica, visando, cada vez mais, a perfeição das qualidades técnicas e da escrita, com a aprendizagem da militância profissional à mistura. Entre diretores e repórteres tratavam-se como colegas. Eles eram mais orientadores de caráter ideológico e a sua afabilidade estimulava a nossa força e entrega e ajudava-nos a superar as nossas insuficiências.
O contributo de jornalistas cooperantes

Tudo aquilo não teria sido tão sólido sem o contributo marcante de uma equipa, de jornalistas maioritariamente portugueses, alternadamente substituídos em cada dois anos (a quem, aqui, gostaria deixar a minha homenagem singela). Foram também pioneiros do Nô Pintcha os jornalistas portugueses que participaram na feitura do jornal desde o primeiro número, nomeadamente:
António Rego Chaves, Eduardo Guerra Carneiro, Daniel Reis, Carlos Morais e Georgete Emília. Mais tarde, outros jornalistas portugueses colaboraram com o jornal, tais como Regina Louro, e os brasileiros Licínio Azevedo e Maria da Paz (filha do grande jornalista português Miguel Urbano Rodrigues), que, depois, se tornou num dos mais destacados cineastas de Moçambique, onde vive.
Pelos resultados demonstrados, a Redação do NP constituía, para nós, uma oficina prática de jornalismo da imprensa escrita, vivida tão intensamente que, dela, saíram moldados para o resto da vida, a maioria de jovens que por lá se passaram, em termos profissionais, cívicos e da cultura da guinendade. Esses jornalistas foram o alicerce da construção e da consolidação da prática do jornalismo da imprensa escrita na Guiné-Bissau.
A aprendizagem intensa do jornalismo profissional que vivemos nos primeiros oito anos depois da fundação do jNP (1975-1982), deixou marcas indeléveis para o resto da minha vida. A dedicação ao trabalho baseada menos no tempo perdido, mas mais na lógica de resultados, traduzidos em produtos de textos entregues diariamente na Redação, o culto da objetividade, e um certo equidistanciamento na abordagem dos assuntos da sociedade, o acompanhamento intensivo da evolução social política e económica do país e do contexto internacional, através do acesso às notícias, a cultivação de conhecimentos extra-escolares e os esforços na busca da perfeição da escrita da língua de comunicação, foram um conjunto de valores apropriados à partir da carreira jornalística e que facilitaram o meu enquadramento e assimilação de conteúdos e a forma de redigir documentos, na vida académica em Antropologia, em Lisboa e no resto da minha vida profissional na Guiné-Bissau.
O que mais marcou a geração dos pioneiros guineenses do NP tutorados por jornalistas estrangeiros, foi a apropriação da postura da objetividade, destreza e desprendimento na escrita e ousadia de fazer um estilo de jornalismo livre, capaz de tocar o dedo nas feridas dos problemas que teimavam obstruir os interesses da gestão transparente da coisa pública, num contexto de partido único, emergente de uma guerra de libertação violenta.
Naquela época, experimentamos uma relativa liberdade jornalística sedutora, embora relativamente controlada, mas exercemos essa liberdade à nossa maneira. De um lado, aprendemos a distinguir, os interesses do povo que os líderes políticos defendiam, representados pela superstrutura política do partido revolucionário, libertador (que, naquela conjuntura, eram, supostamente, os mais corretamente formulados).
Do outro lado, procurávamos distinguir esses interesses do povo das obrigações da gestão administrativa dos governantes que devia ser correta, mas cujos indivíduos podiam ou não ser susceptíveis de práticas de desvios dos princípios políticas orientadores da governação e, portando que deviam ser objeto de um tratamento jornalístico permanentemente mais crítico, baseado na objetividade e distanciamento político de um redator de notícias, independentemente de comunhão de identidade ideológica num regime de partido único.
Não convivíamos, na prática, com a liberdade dos sistemas multipartidários. Mas, a presença e persistência dos jornalistas estrangeiros mais experientes, vindos de um país no qual enfrentaram realidades amargas da censura na noite do fascismo (e que acabava de assumir a liberdade democrática), era uma bússola técnica para nós principiantes. Eles nos orientavam para uma prática jornalística de livre expressão, baseada na responsabilidade de cada repórter sobre aquilo que escrevia, com propriedade e com verdade.
Eles contribuíram significativamente para nos permitir apropriarmos de uma postura equilibrada e ousada de tratamento de notícias, sem bajulação, fazendo o jogo de cintura entre a auto-censura e a liberdade de expressão assumida e que, inúmeras vezes, ia para além dos limites dos riscos que os cidadãos de outros setores sociais sentiam mais do que nós naquela fase. Por que, mesmo que, entre de nós, nem todos eram militantes fundamentalistas, a sociedade e os dirigentes nos viam com bons olhos de educadores do povo e nos toleravam.
Tal estávamos instruídos para insistirmos em fazer perguntas aos nossos entrevistados e não regressarmos à Redação com notícia incompleta, que algumas vezes fui confrontado com momentos embaraçosos que me deixavam quase em pânico. Por exemplo:
- Os gritos do Comandante Nino Vieira, então Chefe de Estado-Maior do Exército, em 1976, no aeroporto, irritado com as minhas perguntas insistentes, sabendo que o próprio não estava disposto a abrir-se e explicar os motivos da missão que tinha chefiado a Cabo Verde. A pronta e diplomática intervenção do ministro Fernando Fortes, tocando as mãos nas minhas costas dizendo ao Nino, ‘’Deixa-o camarada, os jornalistas são assim’’, gesto que aliviou as consequências da minha teimosia, de jornalista insistido;
- Poucos anos depois, ao entrar na sala do julgamento público dos supostos implicados no caso Rafael Barbosa, na Base Aérea, e ao começar a tomar notas das minhas apreciações do desenrolar dos interrogatórios, fui surpreendido por dois agentes que me levaram a um canto do corredor, questionando-me sobre o que estava a escrever no bloco-notas e quem me autorizara a fazê-lo, mesmo sabendo que eu era jornalista. O meu alívio foi ter citado o nome do Procurador-Geral da República, Dr. Cruz Pinto, que, no dia anterior, tinha incumbido a um seu subordinado de mandar telefonar ao Diretor Toni Tcheca sobre o interesse em noticiar o evento;
- E os apuros em que me meti ao fazer uma reportagem a base de investigação prévia, denunciando o envolvimento da Direção Geral dos Armazéns do Povo, na assinatura de autorizações de transporte de mercadorias para as fronteiras do Senegal, numa fase em que os consumidores enfrentavam penúria de alimentos da primeira necessidade. Filinto de Barros acabava de substituir Mário de Andrade, depois do 14 de Novembro de 1980. Ele soubera ajudar o Diretor do Jornal, Toni Tcheca, a arbitrar internamente os protestos contra o Jornal, com calma e perspicácia de um intelectual, numa fase em que Nino Vieira exortava às denúncias como uma das formas de mostrar a justeza do golpe contra Luiz Cabral.
Os fundamentos da tolerância do regime face ao jornalismo aberto
Na realidade, não significa que tínhamos total liberdade nas abordagens críticas aos procedimentos de gestão governativa, pois o regime não era democrático. A nossa sorte era o facto de termos algum suporte de governantes que eram lúcidos e percebiam o lugar que a comunicação social ocupava na sociedade. Para estes, éramos aliados nos esforços conjuntos para a aplicação do saber fazer corretamente e no saneamento dos embriões do mal que tinham começado a surgir e a corroer alguns setores da sociedade.
Apesar disso, sabíamos que o sistema político estava minado de cetos altos funcionários defensores das restrições das liberdades de expressão e do pensamento, sobretudo dos serviços da segurança do Estado, que tinham outra lógica do sistema de policiamento ‘’stalinista e tcheco’’, mais hermético, que os induzia a suspeitar sempre de fantasmas nas periferias do poder. Mas os jornalistas portugueses tinham-nos transmitido o vírus de jornalistas: a teimosia e o vício da escrita.
O nosso trabalho também era tão apreciado por todas as franjas sociais e políticas do país, por sermos a única fonte escrita de informação, sobretudo de formação dos cidadãos sobre os esforços da reconstrução nacional, da unidade nacional e transnacional da Guiné e Cabo Verde. O jornal era de fácil acesso pelo público diversificado, circulando nas ruas pelas mãos dos ardinas e penetrando nas escolas, repartições, gabinetes dos governantes e privados e nas regiões.
A “fina flor da futura geração de escritores guineenses”?
Muito antes, na primeira meia dúzia de anos da criação do jornal trissemanário, pelas qualidades dos textos publicados, o primeiro presidente Luís Cabral, discursando no átrio do edifício da nossa sede, durante a Sessão de um dos aniversários do NP, elogiou o corpo redatorial, não apenas pela cobertura permanente dos acontecimentos do país e do governo, mas sobretudo pelas qualidades literárias e dos conteúdos dos textos publicados, considerando-nos de ‘’ a fina flor da futura geração de jovens escritores guineenses’’. Uma homenagem para nós, mas uma pesada responsabilidade sobre os nossos ombros, quanto a ‘’futura geração de escritores’’, e que, de tempos a tempos, tem invadido o pensamento de alguns de nós que ainda não o somos.
Temos perfis, capacidades e vontade não nos falta para o sermos, mas, ser escritor, não é tarefa tão simples e trivial. A concretizar-se ou não o repto sub-repticiamente lançado por Luís Cabral, da futura geração de escritores, acredito que muitos de nós que recebemos o banho da prática diária da escrita no jornal, cada um à sua maneira, modestamente teremos dado continuidade a prática simbólica da escrita literária no quotidiano das nossas vidas profissionais.
Não podemos exigir muito mais a nós mesmos, dentro daquilo que terá sido possível num país onde a pobreza das condições da classe de jornalistas, agravada pelo fardo dos desafios que um chefe de família enfrenta diariamente, para manter acesas as chamas do lume nas três pedras de fogão que garantem o pão de cada dia nos lares.
Isso terá limitado a disponibilidade da maioria de jornalistas para outras lides em obras literárias. Honra seja feita pela exceção, aos colegas Toni Tcheca, Fernando Perdigão e Mussá Balde, poucos dos jornalistas que já produziram e publicaram obras literárias, salvando a nossa honra da classe.
Fases marcantes do ‘’NP’’ na primeira quarta parte do século da sua existência
Em resumo, durante meio século do seu percurso de 50 anos (1975 a 2025), o Jornal viveu três períodos do seu crescimento, com altos e baixos, junto do público leitor:
- os primeiros anos após a sua criação, durante os quais apresentava-se aos cidadãos como uma nova alternativa, substituindo o jornal colonial Voz da Guiné, de procura muito restrita aos círculos de leitores da elite urbana e, sobretudo, próxima do regime colonial. Passou a ser uma alternativa no sentido de ser o veículo das mensagens revolucionárias do regime libertador estimulando a curiosidade sobre as ideias da criação do Homem Novo e ampliando os hábitos da leitura. A sua procura era, por isso, elevada. A sua distribuição penetrava diferentes níveis sociais e políticos na capital e nas sedes regionais.
A postura compreensiva dos dirigentes contribuiu para um certo à-vontade dos jornalistas. Mesmo nos tempos de partido único, o Secretariado do PAIGC entendeu que um jornal do governo não preenche os interesses restritos do partido no poder, por isso José Araújo, responsável do Secretariado do Partido, criou o boletim o Militante, exclusivamente para veicular mensagens do Partido. Que fará nos tempos da democracia multipartidária.
- A segunda fase surgiu repentinamente à partir do 14 de Novembro de 1980. Arrastados pela euforia do Movimento de Reajustamento Nacional, a ousadia dos jornalistas antes existente em pequena dimensão desabrochou e o jornal passou a viver momentos de maior liberdade com os seus jornalistas a enveredarem num jornalismo de pesquisa e tratamento de factos do quotidiano com maior profundidade e acutilância.
Os jornalistas do ‘’NP’’ estavam também entusiasmados e estimulados a esgaravatar e denunciar com frontalidade controlada, as rédeas do dia-a-dia do funcionamento das atividades dos setores estatal e privado.
Pois, um jornal governamental num país democrático não deve confundir-se com o da fase do monopartidarismo monopolizante, em que esse era unicamente uma caixa de ressonância do governo e do partido no poder. O Jornal governamental, em democracia, procura conquistar leitores e opinionistas de vários quadrantes ideológicos, económicos, sociais e culturais, porque é um órgão do Estado ao serviço da sociedade na sua pluralidade ideológico-partidária, étnica e social e não um órgão do partido no poder.
Do jogo de cintura entre a sua identidade governamental e, ao mesmo tempo, um espaço aglutinador de interesses e aspirações de diferentes sensibilidades e de toda a sociedade, aí residirá a capacidade dos seus dirigentes e da classe jornalística que o integram em evoluir e sobreviver no contexto, com ou sem idênticas chamas atrativas e representativas da sua existência, desde os primeiros anos da criação deste órgão.
Por Pedro Quade, ex-jornalista e ex-diretor do “NP”